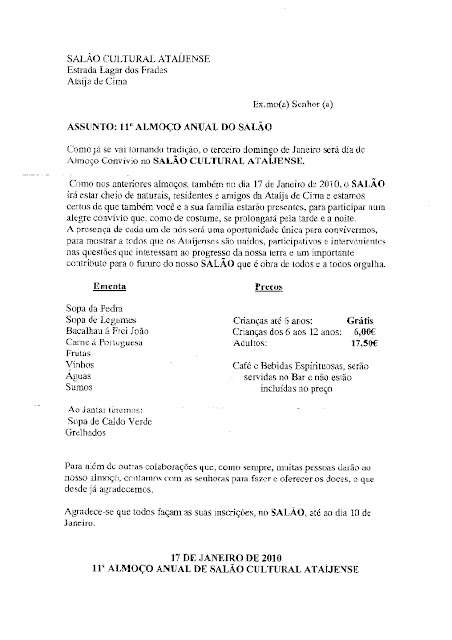No início dos anos cinquenta do Séc. XX, quando comecei a ter entendimento das coisas que me rodeavam, na Ataíja de Cima que, então, tinha uma economia ainda exclusivamente agrícola (exceptuava-se a família de Manuel Rei de Carvalho, o Sarrano(1) que vivia do comércio e, de todo, não trabalhava a terra que, aliás, não tinha), havia três grupos de famílias relativamente estanques(2), quase classes ou grupos sociais.
No topo da estrutura social ficavam a família de Luísa Ribeiro, a Viúva, e a de seu primo, José Ribeiro. Viviam da exploração de terras próprias e dos rendimentos obtidos através das maquias que cobravam nos lagares de azeite(3) que possuíam, lado a lado, na margem nascente da Lagoa Ruiva(4).
A família não trabalhava na terra ou trabalhava pouco, todo o trabalho era realizado por criados e outros contratados, a Luísa Ribeiro mantinha um abegão em permanência e, sazonalmente, um chefe do rancho de apanhadores de azeitona e um mestre do lagar e em casa havia sempre algumas mulheres, sendo que os demais trabalhadores eram contratados ao dia, de acordo com as necessidades. Para se ser contratado era, naturalmente, conveniente estar nas boas graças do patrão e fazer-lhe “pequenos” favores, como por exemplo, ao Domingo regressados da missa em São Vicente, ir rapidamente a casa trocar de roupa e ceifar erva fresca para o gado antes do almoço.
Na casa de José Ribeiro as coisas passavam-se semelhantemente, com uma junta de bois(5) a trabalhar exclusivamente para a casa, onde era hábito contratar, para a apanha da azeitona, um rancho dos Montes que, durante aqueles dias, se aboletava no primeiro andar da casa alta. Outros trabalhos exigentes de mão-de-obra abundante, como as vindimas, contavam por vezes com trabalho gratuito (talvez pagamento de favores difusos que a minha juventude não permitia identificar) de outros aldeões. Lembro-me de uma vez ir com a minha avó, já velha, vindimar para o José Ribeiro numa vinha que tinha nos Vales. O dono da casa não vindimava, passeava-se por ali, sobre os pés chatos, biqueiras bem lançadas para fora, como o Charlot, de espingarda às costas e, às tantas, tendo surgido um coelho, meteu a espingarda à cara, disparou e falhou – parece que era mesmo fraco atirador – e desatou a gritar aos cães: agarra cão, agarra cabrão, agarra punheta… e mais um chorrilho de palavrões que me abstenho de reproduzir.
A junta do José Ribeiro era a única junta de bois machos existentes na aldeia. Para além disso, havia algumas, poucas, juntas de vacas e outras tantas de bezerras(6). Exclusivamente para transporte(7), quer ao carro quer em ceirões ou cangalhas, havia uma ou duas mulas ou machos e diversos burros, sempre um único animal por casa, à excepção do António Piedade e da Joaquina Coelho que tinham carros puxados por dois burros. Os outros tinham um burro e um carro e alguns, mais pobres, apenas um burro e o carro era, quando estritamente necessário, por exemplo para ir buscar uma barrica de água à lagoa(8), pedido de empréstimo.
No telhado da casa alta do José Ribeiro, sobre uma plataforma de cimento, rodava um moinho (aerogerador) que produzia a electricidade(9) necessária para fazer funcionar a única telefonia da aldeia.
Tratando-se, embora, das famílias mais ricas da aldeia, não significava que levassem vida opulenta. É certo que o José Ribeiro costumava dizer que nunca quereria ver os ratos magros lá em casa (o que significaria que se tinha esgotado o cereal no celeiro) mas a vida era modesta. Era célebre a má qualidade do vinho que disponibilizava aos trabalhadores (na verdade não era vinho mas, antes, uma água-pé reles, feita da repisa do pé da prensa a que se adicionava água e que, mal o tempo aquecia, antes do início da Primavera, ficava choca). Também na comida, as coisas eram parcimoniosas. Ouvi muitas vezes contar que a sua mãe - que era mulher de voz grossa - um dia, à ceia, perguntou aos criados de casa: Querem mais? E, tendo-se ouvido um tímido: Queremos, sim Senhora, tonitruou: Alimpam bem sem vento! E se era assim com os criados, não era muito diferente com os donos da casa que, além dos produtos da terra(10) e da matança do porco, apenas chegavam, de vez em quando, como toda a gente, a umas sardinhas(11), uns chicharros ou uns carapaus secos(12).
Perto destas duas famílias, estava a de Francisco dos Casais, cuja mulher era filha de Matias Ângelo e possuía, por isso, um quarto do Olival dos Frades e o lagar de azeite fundado pelo pai, além de diversos outros terrenos. Era uma família numerosa, com dez filhos(13). Tanta gente já dava muito trabalho a sustentar e por isso todos trabalhavam também, mas apenas nas próprias terras e nunca nas terras de outrem. Mas aqui já dava para perceber que as terras não podiam assegurar o futuro de todos. Assim, o filho Rafael(14), o mais velho, foi aprender a bate-chapa e um outro, o João(15) , a sapateiro e a filha mais nova, Luísa, fez alguns estudos e foi, durante muitos anos, funcionária do Instituto Nacional de Estatística, em Lisboa. Actualmente reside na aldeia apenas uma filha, Piedade, solteira.
A um nível semelhante, a casa de Francisco Dionísio, que era casado com Joaquina Lourenço, filha de António Lourenço que trabalhou para Raposo de Magalhães, de quem foi caseiro ou algo semelhante (lembro-me de o associarem à grande vinha que havia na subida dos Ganilhos, na quinta do Mirante. O mirante ainda lá está, agora por detrás da urbanização de recente construção).
O Francisco Dionísio mantinha abegão, um tal Gonçalves, como criado de cama e mesa. Lembro-me das debulhas, na eira junto ao quintal que foi do meu pai, tempos de brincadeira quando era permitido às crianças rebolarem-se nos cereais ou passear sentadas no trilho(16) (nos palheiros das vacas houve, depois, um café e mais tarde o restaurante Rapó-Tacho). Quando faleceu deixou largas somas em dinheiro tendo sido encontrada, escondida dentro de uma vasilha cheia de folhelho(17), uma caixa de lata com algumas centenas de contos em notas.
Seguia-se na escala social um pequeno e mais heterogéneo grupo de famílias que viviam, essencialmente da exploração das terras próprias que eram tratadas pela família. Só muito raramente contratavam mão-de-obra e, em regra, não trabalhavam para fora, salvo ao dia trocado(18).
Abaixo destas, as famílias verdadeiramente de poucas terras e, portanto, de poucas posses. As terras próprias eram, apenas, um complemento, às vezes mínimo, insuficiente para sustentar a família que, assim, vivia essencialmente de andar fora(19).
Os artistas locais situavam-se em geral a este nível, tinham poucas terras que, aliás, pouco trabalhavam e ficavam a cargo da família e viviam, pobremente, do ofício(20) (ou ao contrário, viviam pobremente das escassas terras e tinham um complemento de rendimento nos trabalhos, ocasionais, próprios do ofício).
E havia o carreiro, Sabino Vigário que vivia de andar fora com a sua junta de vacas , a lavrar, ou a fazer transportes com o carro(22).
Para os mais pobres, os que tinham de aproveitar todas as oportunidades de andar fora, havia às vezes, sempre e apenas nas épocas das sementeiras e das colheitas, trabalho nas grandes quintas junto a Alcobaça(23), no Magalhães ou no Rino. O meu avô Agostinho tinha um problema suplementar: Era pai de cinco filhas e, naquele tempo, uma mulher ganhava no campo, metade da jorna(24) de um homem(25). Era, pois, preciso aproveitar tudo e por isso, as minhas tias muitas vezes percorreram a pé, duas vezes ao dia, com outras mulheres da aldeia, o caminho que vai da Ataíja até à quinta do Rino, à entrada de Alcobaça(26). À minha mãe que, antes de 1940, ainda não tinha idade para ganhar a jorna, competia partir mais tarde, levando à cabeça, num cesto de verga, o jantar das irmãs que a mãe, entretanto, tinha cozinhado.
Vivia-se então, na Ataíja, mal e porcamente(27) e a ilha que era a minha aldeia, como todas as ilhas, expulsava os que não podia sustentar(28).
Alguns casavam para fora, como o meu tio-avô António que vivia nos Milagres ou o José Matias que foi para os Olheiros e o irmão Manuel que foi para o Mogo, outros que foram para a Ataíja de Baixo ou os Casais de Santa Teresa. Mas o casamento também trouxe pessoas para a Ataíja e desconheço o saldo.
Houve alguma emigração para a América no princípio do Séc. XX(29) , alguns homens que foram sós, sem família e retornaram. Um meio-irmão da minha avó emigrou para a Argentina e por lá ficou e lá morreu velho. Curiosamente, que eu saiba, ninguém para o Brasil. Fora isso, mais uma pessoa ou duas, nada de muito significativo.
A emigração era, essencialmente sazonal: homens para a vindima na região do Bombarral(29), para a azeitona ou as ceifas em Lisboa(31), onde o meu tio António Sapatada foi, durante trinta e cinco anos seguidos, aumentador da enfardadeira do Zé dos Engraixados(32), a enfardar feno em Telheiras e arredores. Um rancho de mulheres ia para as ladroas e as vindimas no Ribatejo(33). Estas ausências da aldeia duravam, por vezes, bastante tempo chegando-se a ir, directamente, das vindimas no Bombarral para a azeitona em Lisboa(34).
Alguns foram para Lisboa, onde até ao último quarto do Séc. XX a emigração era especializada por regiões: Diz-se que as pessoas que recolhem o lixo são chamadas almeidas por os primeiros terem vindo dessa região. É certo que os patos-bravos são os tomarenses que emigraram em massa(35) para a construção civil que dominaram. Que as tascas eram de galegos ou minhotos. Que os padeiros eram de Tábua. Destes todos, os menos inteligentes foram os alcobacenses que se tornaram leiteiros(36). O meu pai e a minha mãe foram leiteiros e está, felizmente, vivo o Luís da Graça que também o foi. Eu próprio vendi muito leite às portas das casas no Bairro das Colónias(37) e aí conheci leiteiros de Aljubarrota, e de todas as aldeias junto à Serra, da Ataíja aos Molianos.
E haviam os vaqueiros; Uma vez que resolvi percorrer a Ataíja fotografando tudo deparei, curioso, com a cisterna de Manuel Luís(38). Na primeira oportunidade interpelei o filho José da Graça que fazia o favor de me tratar com consideração e amizade e perguntei-lhe como é que o pai dele, tendo de sustentar um rancho de filhos, tinha conseguido arranjar dinheiro para uma cisterna assim. Ao que me explicou que os irmãos Manuel e João Luís tinham um negócio curioso: Eram vaqueiros de uma mesma vacaria em Lisboa onde faziam, alternadamente, turnos de três meses. Quando um estava em Lisboa estava o outro na Ataíja, aqui com a incumbência de tratar do bom cultivo das terras e apoiar as famílias de ambos(39).
Outros casos houve, naquelas épocas, de emigração para a região de Lisboa: Filhas de gente pobre foram para criadas e houve, também, rendeiros de quintas como José Coelho, em Camarate.
No final dos anos cinquenta do Séc. XX, a Ataíja secular, exclusivamente agrícola, entrou no processo de transformação que a trouxe até ao progresso. Em Setembro de 1958, Luís da Graça resolveu abandonar Lisboa, onde era leiteiro e retornar à aldeia(40) e dedicar-se à extracção do vidraço. Essa pedra que durante séculos amaldiçoámos por só servir para tornar os terrenos improdutivos, era afinal, a riqueza que estava debaixo dos nossos pés e não o sabíamos. Pouco tempo antes já João Veneno tinha começado a exploração. Seguiu-se a abertura da fábrica de faianças da Safaril e depois, mais fábricas, mais pedreiras, emprego para toda a gente e mais gente houvera e, não havendo, tiveram de vir de fora(41).
__________________________________
NOTAS:
(1) Ambos os membros do casal eram sarranos. Durante muito tempo, vinham até à Ataíja sarranos com uma carroça, às vezes montados, apenas, numa mula, negociar. Traziam pano e compravam ovos. Esse movimento continuou mesmo muito tempo depois de Manuel Rei de Carvalho aqui se ter estabelecido, por compra da taberna que era do Alfredo (filho de Matias Ângelo). Ainda há pouco, como durante décadas, por aqui aparecia o José Palmiro.
(2) Passar de um a outro grupo era tarefa difícil que a maioria nem sequer ousava tentar. Ainda há quem esteja solteiro pela única razão de serem muito díspares as dimensões das respectivas terras familiares.
(3) Ainda nos anos sessenta, entre produção própria e maquias, a casa de Luísa Ribeiro juntava cerca de quarenta pipas (vinte mil litros) de azeite.
(4) O lagar de Luísa Ribeiro, agora propriedade de seu filho Francisco Vigário, ainda trabalha (2009).
(5) Todas as juntas tinham as suas campainhas e chocalhos, cada uma com sua afinação. Naqueles tempos em que não havia motores nem outras fontes de ruído que não a actividade humana, o chiar dos porcos, o cantar do galo e o chilrear dos pássaros, ouviam-se a grande distância os chocalhos e, pela música, se identificava o proprietário.
(6) Bois, vacas bezerras, a importância das famílias reproduzia-se no tamanho dos bovinos.
(7) Ao contrário de outras regiões, por aqui nunca se usaram muares na lavoura que a isso se não prestava a dureza da terra.
(8) No livro Mosteiro e Coutos de Alcobaça - Aguns Capítulos Extraídos dos Manuscritos Inéditos do Autor e Publicados No Centenário do seu Nascimento, de M. Vieira Natividade, Alcobaça, 1960, está uma fotografia, de uma cena que eu próprio observei muita vez (vê-se, nela, o telhado já em ruína do Lagar dos Frades que, no início dos anos cinquenta do Séc. XX, já não existia).
(9) Fora isso, apenas nos lagares havia electricidade que garantia uma fraca iluminação e era obtida através de um dínamo acopolado ao motor diesel que fazia funcionar as mós e a prensa hidráulica.
(10) Os produtos da terra eram e são, fortemente condicionados pela extrema secura do terreno. Não havendo possibilidades de regar, não havia, no Verão, qualquer espécie de verdura. Só as couves galegas (couves de horto, como por aqui se dizia) mas, mesmo estas, não se podiam comer em Agosto de duras e secas que estavam. Provérbio local: Se queres ver o teu homem morto, dá-lhe sardinhas em Maio e couves em Agosto.
(11) O peixe vinha de Alcobaça à segunda-feira, dia de mercado. No mais, aparecia por vezes na aldeia uma pexineira que fazia o caminho da Nazaré a Aljubarrota na carreira dos Capristanos e, daí até à Ataíja, o transportava a pé, à cabeça, em três canasta de verga sobrepostas. Lembro-me bem da Tanoeta e de uma outra, julgo que Deolinda, cuja filha ainda há poucos anos vendia no mercado de Alcobaça.
(12) Há quem sustente que o José Sarrazina, filho de Luísa Ribeiro, por mais de uma vez e em conluio com a criada espetou um alfinete na cabeça de uma galinha, como única solução para a poder comer (aplicava-se a estes ricos o provérbio brasileiro: “quando pobre come galinha um deles está doente”).
(13) Uma ou duas freiras.
(14) Casou nos Molianos onde abriu oficina e o restaurante Arco da Memória. Foi vítima de um grave acidente de viação no qual faleceu o então presidente da Bolsa de Valores de Lisboa, Dr. Veiga Anjos.
(15) Emigrou para Lisboa, foi durante muito tempo motorista particular do Conde Bobone e, posteriormente, tornou-se motorista de táxi. Este João e o Chico Russo, foram os primeiros ataíjenses a ir para Angola, para a guerra colonial.
(16) O trilho era um fabuloso instrumento de descasque de grãos. Era rebocado pela junta de vacas e tinha em vez de rodas dois ou três rolos com pitões rodando debaixo de uma plataforma onde havia um banco corrido a toda a largura do aparelho.
(17) Folhelho é a casca, seca, das uvas que se guardava para dar aos animais no Inverno.
(18) O dia trocado consistia em duas ou mais pessoas, de famílias diferentes (por vezes as famílias inteiras), irem num ou mais dias fazer um determinado tipo de trabalho para uma família que, no dia ou nos dias seguintes o retribuíria. Criavam-se, assim, ranchos de média dimensão que permitiam aumentos sensíveis de produtividade.
(19) Trabalhar fora de casa, fora dos terrenos da família, trabalhar para outra família: “amanhã vou andar fora, para o José Ribeiro”.
(20) Eram poucos: Manuel Lérias, carpinteiro; João Redondo, sapateiro, o sobrinho dele e meu tio António Coelho Quitério (Sapatada), sapateiro, Manuel Veríssimo, pedreiro, mais tarde, também pedreiro, José Dias, Manuel, serrador. O ferreiro era na Ataíja de Baixo, o ferrador era o Manuel da Casaca, da Cumeira de Baixo, ou o Barata. A minha tia Angélica era modista. Em casa do Petinga, na de Maria Coelho e na de Maria Branco, havia teares que no meu tempo já não trabalhavam e que, antes, só faziam mantas de trapos. Gatear pratos e alguidares e consertar chapéus de chuva era trabalho de galego. Às tantas havia um funileiro, o Tentilhão que trabalhava numa casa do Alfredo e numa outra casa deste Alfredo, a casa da Calçada, o Pirisca teve oficina de sapateiro. Outras pessoas havia especialmente aptas para um determinado tipo de trabalho, mesmo no campo. Lembro-me que Manuel Branco era tido por um bom podador de oliveiras. Mas isso não era ofício.
(21) Cada vaca ganhava por um homem pelo que um dia de carreiro custava o equivalente a três homens/dia. Acrescia o almoço do carreiro que era melhorado: arroz ou massa de meada com grão e um apontamento de bacalhau.
(22) Não havia outro meio de transporte pelo que tudo ía no carro das vacas: pedra, terra e areia (extraída na Serra, no areeiro do Piquete) para construção, cereais para a eira e uvas para o lagar, mato para as estrumeiras.
(23) Junto à Ataíja, em toda a zona que hoje borda o IC2 (Estrada Nacional n.º 1) também havia grandes propriedades, muitas de proprietário ausente mas, totalmente ocupadas por olivais, não eram grandes utilizadoras de mão-de-obra, salvo na época das colheitas.
(24) Pagamento da jornada. O pagamento do trabalho de um dia (de sol a sol, quer dizer, do nascer ao pôr-do-sol).
(25) Certa vez, em Vale do Coelho, Mação, ouvi contar a história de um local que, no tempo da segunda guerra mundial, tendo também cinco filhas, batalhava pela vida trabalhando, sol a sol, de segunda a sábado, nas propriedades de Pequito Rebelo, no Gavião, do outro lado do rio. Ganhava para um saco de farinha com que coziam o pão semanal e ficava a dever ao latifundiário, em cada semana, vinte escudos.
(26) Algumas vezes fiz este percurso, também a pé, para ir ao mercado a Alcobaça. Ía-se por um caminho que ainda existe e começa em Aljubarrota, entre a estalagem e a bomba de gasolina.
(27) Expressão que aqui me parece bem a propósito (em rigor, o que se quer dizer é mal e parcamente, com pouco).
(28) Vivia-se mal em todo o concelho de Alcobaça e em todo o Portugal, nesse tempo. Em 1950, os estrangeiros representavam, em Portugal Continental, apenas 2,6/mil da população e, na região a oeste da serra dos Candeeiros, não ultrapassavam o máximo de 1,1/mil. Mesmo quanto à naturalidade, era o concelho de Alcobaça que, na região, tinha a maior percentagem de população natural do próprio concelho, 89,5%, o que diz bem do baixíssimo grau de atractividade da região. (A Região A Oeste da Serra dos Candeeiros, p. 117)
(29) O marido de Maria Coelho, o sogro da minha tia Angélica e outros. Um dia observei à minha tia Angélica uma coisa estranha: quando se entra na casa (que ainda existe), a nascente, do lado direito da porta, há dois quartos mas a parede que os separa da casa de fora não é, como de costume, de tabique, mas uma grossa parede de pedra, como se fora uma parede exterior. A minha tia explicou: Esses quartos não existiam. Foram construídos pela sua sogra, justapostos à casa pré-existente, com dinheiro que o sogro mandou da América.
(30) O meu pai, como muitos outros do seu tempo, vindimou por todos os concelhos do Bombarral, Cadaval e Alenquer, deslocando-se a pé, de aldeia em aldeia, a procurar trabalho, dormindo onde calhava (uma vez numa arribana, sobre molhos de vides).
(31) Ía-se, muitas vezes, sem destino e sem patrão. Como ainda hoje, aliás, a “feira dos homens” era no Campo Grande. Juntavam-se os homens e vinham os rendeiros ou os capatazes das quintas e, de entre os mais fortes, os já conhecidos e os amigos destes, escolhiam o número de homens de que precisavam para as tarefas concretas a executar.
(32) Contingências do ofício de sapateiro, em aldeia onde todas as crianças e mulheres (incluindo a dele próprio) andavam descalças.
(33) Durante anos, o meu tio Joaquim Matias organizou um rancho que se deslocava, em Maio e em Setembro, para Porto de Muge.
(34) Por volta de 1936 o meu tio Sapatada foi com o irmão (José Francês) vindimar para o Bombarral. Acabada a safra, deixou o irmão, então com dezoito anos, na estação das camionetas e recomendou-lhe que voltasse para a terra, a ajudar o pai que ele ía para Lisboa, para a apanha da azeitona. O Francês disse que sim mas apanhou a camioneta seguinte para Lisboa. Voltou à Ataíja passados dez anos, onde assistiu ao casamento do meu pai, tendo regressado logo a Lisboa. Seguiu-se a emigração clandestina (transportando um saco de mercadoria às costas como se fora estivador) para Marrocos, num barco carregado de casca de carvalho para a indústria de curtumes. Aquando da independência de Marrocos, já viúvo e com três crianças, duas delas gémeas, de colo, foi para França, onde ficou a trabalhar de carpinteiro, até à reforma, quando voltou a viver na Ataíja.
(35) Essa emigração teve importantes consequências na paisagem tomarense, onde o pinheiro alastrou quer por falta de braços para trabalhar a terra quer porque a construção civil era grande consumidora da madeira que era utilizada para prumos, cofragens e andaimes e, com frequência, em limpos: Tectos e soalhos e portas e janelas.
(36) A profissão não era boa e estava em vias de extinção e ninguém ganhou dinheiro que se visse.
(37) A minha mãe tinha, na Rua de Timor, uma cliente cujo marido usava monócolo. Um dia toquei à campainha e veio Sua Excelência que, sem sequer cumprimentar, gritou para dentro, para a criada: Maria! Companhia das águas! Tive, do alto dos meus dez anos, vontade de esganá-lo. Não o esganei mas insisti com a minha mãe para deixarmos de o fornecer. Afinal, convenceu-se ela, era subir a pé um segundo andar para vender um quarto de litro de leite e ganhar um tostão!
(38)Tem uma pequena placa com a data de construção: 192…
(39) Havia sempre alguém da Ataíja a tratar de vacas leiteiras em Lisboa. O último foi Francisco Jorge que conheci responsável por trezentas vacas de leite na Quinta do Carmo, agora cheia de armazéns, ali nas traseiras do Bairro da Portela.
(40) Lembro-me bem porque fomos ocupar a parte de casa onde vivia o Luís da Graça, na cave do n.º 28 da Rua Luís Monteiro, no Alto do Pina, num prédio que já não existe. Eu, que até aí tinha vivido na Ataíja com a minha avó Maria Lourenço, tinha chegado na véspera a Lisboa, para ir para a quarta classe e fazer o exame de admissão ao Ensino Técnico Profissional. Em troca, o Luís da Graça instalou-se na Ataíja em casa de meu pai, onde ficou até concluir a sua própria.
(41) Entretanto, faliu a maioria das fábricas de faiança mas, da Ataíja industrial, falaremos noutro texto.